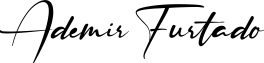Então é Natal. Isso significa a repetição dos rituais que há muitos anos comemoram o nascimento de um salvador.
É típico de qualquer mitologia que se consolida como religião encenar periodicamente as peripécias dos deuses nos eventos primordiais. É para o povo nunca se esquecer de onde e como tudo começou.
Até uns dois anos atrás, um dos ritos mais sólidos do natal dos brasileiros era o show do Roberto Carlos, hoje cancelado por motivos que só os deuses conhecem. Mas eu falo isso, não para reclamar da ausência desse ato tão significativo na alma dos cristãos brasileiros, mas, sim, porque essa lacuna nas comemorações de fim-de-ano me levou de volta a um momento muito saudoso da minha infância.
Quando eu era criança, lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente tinha poucas opções de lazer, além daquelas que a natureza proporcionava: subir em árvore, tomar banho nas cachoeiras. Brinquedo, só aqueles que a gente conseguia fazer, como fazendinhas, em que os bois eram sabugos; ou mercadinhos, onde as cascas de laranja se transformavam em produtos expostos para a venda. Isso no verão, porque no inverno, nada melhor do que permanecer dentro de casa, de preferência ao lado do fogão à lenha.
Em tais períodos de recolhimento involuntário, num meio com poucas ofertas de brincadeiras, desfrutava-se com muito gosto o prazer de ouvir música. Porém, naqueles tempos de antanho, quando nem se sonhava com as FM’s, e a possibilidade de baixar os sucessos da moda da Internet não aparecia nem nas ficções científicas mais bizarras, só se ouvia as emissoras AM’s que, com os estúdios em Pelotas, alegravam os ouvidos dos habitantes do interior, com uma programação, por assim dizer, bem popular. Vivia-se o auge da Jovem Guarda, e o cantor mais tocado em todas as rádios, como não podia deixar de ser, era o Roberto Carlos, que desfilava o dia todo pilotando um calhambeque. Ele era uma brasa, mora?
Mas tudo na vida tem um obstáculo que atrapalha o momento lúdico. No meu caso, o inconveniente se concretizava nas arrelias do meu pai, que não deixava a gente ouvir aquele tipo de coisa, porque numa casa de família não devia tocar aquela barulhada de fresco. A contrariedade paterna se fundava no figurino do então rei da juventude, composto por um cabelo de franja jogada sobre a testa, calça jeans bem apertada, camisas bem extravagantes, um medalhão pendurado no pescoço, o máximo de rebeldia daqueles jovens que ignoravam a contracultura.
“Fresco”, no vocabulário de meu pai, era o termo usado no ambiente doméstico para demonstrar desconfiança sobre a masculinidade de um homem, no tempo em que demonstrações homofóbicas não significavam crimes. E “não deixar” é maneira de dizer porque, na verdade, meu pai nunca impediu efetivamente a audição, nem mesmo impôs qualquer castigo ao filho por infringir o regulamento. Ele apenas rezingava, levantava suspeitas muito fortes sobre a identidade de gênero do meu ídolo, mas fazia de conta que não ouvia nada quando o radinho de pilha chiava escondido lá no quarto. Eu me deixava levar na carona do rei e me compadecia ao saber que ele estava amando loucamente a namoradinha de um amigo dele. O cara era terrível e por isso corria demais.
Poucos anos mais tarde, Roberto trocou o calhambeque por um carro mais potente, parecia uma nave espacial, saiu a 120, 140, 160 por hora, enveredou pelas curvas da estrada de Santos à procura da amada amante. Continuou cabeludo, mas sem a franja ridícula, e o meu pai, já confiante de que o filho tinha se salvado das más influências, parou de implicar. Ainda mais que o monarca teve um acesso de misticismo, subiu uma montanha e se parou a gritar “ Jesus Cristo, eu estou aqui”.
Aí a brasa começou a se apagar, as canções do cantor viraram uma rotina, ele parou de correr e ficou esperando que as crianças saíssem de férias. Por esse tempo, nós já morávamos no município de Pelotas e a idolatria já não sofria mais restrições, o que significa que tinha perdido a graça. Não havia mais aquele gostinho de transgredir o interdito, o que torna qualquer coisa mais gostosa.
Eu entrei na adolescência no momento em que Sua Majestade parou em frente ao porão e foi recebido pelo cachorro, que sorriu latindo, mas aí uma força estranha me empurrou para outras sintonias, e quando ele virou caminhoneiro, atravessou o pais sob chuva e cerração, a gente já tinha muito mais roteiros de viagens e novas experiência.
Quanto a roupa do rei, hoje parece um uniforme. Há uns quarenta anos que ele se apresenta com o mesmo figurino, uma harmonia bem evidente com o tipo de arte que faz.
Não creio que o povo esteja sentindo a falta daquele incremento musical que até poucos anos atrás brindava o aniversário do salvador da cristandade. Quanto a mim, muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar, além de diversificar o gosto musical, nem cristão eu sou mais, se é que fui algum dia.
E, pensando bem, neste finzinho de 2020, em que a gente vai vivendo por aí, por viver, ainda não há uma salvação garantida para ser celebrada, e para quem abandonou o séquito da realeza, tudo é igual quando o rei canta ou é mudo. É bem verdade que, para quem leva a sério a lenda dos três reis magos e a presepada da manjedoura, e tudo o que se seguiu depois, tudo está igual como era antes, quase nada se modificou, e a trilha sonora do natal é detalhe tão pequeno que não vai causar nenhum trauma a ninguém.
Photo by Mehmet Turgut Kirkgoz on Unsplash