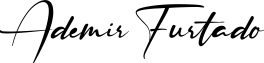Alguns assuntos nunca saem de pauta. São aqueles cujo objeto é constitutivo da estrutura ideológica de uma sociedade. Como o racismo, por exemplo. Nesse caso, as estratégias para combatê-lo também são temas recorrentes em todas as manifestações culturais.
Pela natureza de produto cultural, a literatura é um veículo importante para a transmissão e debate de ideias, mas nem sempre é devidamente interpretada. Há poucos dias li uma notícia que os herdeiros de Monteiro Lobato estariam reeditando uma das obras do acervo infanto-juvenil do autor, porém com supressão de trechos considerados racistas. Essa decisão pode estar prenhe das mais nobres intenções, como a de evitar aos leitores mirins o contato com enunciados que incentivam posturas preconceituosas, e com isso impedir a disseminação do preconceito racial.
Se essa fosse a única questão envolvida, a medida já mereceria consideração e apoio públicos. Porém, numa hora dessas, é difícil esquecer aquele ditado popular que diz que de bem-intencionados o inferno está cheio. Porque essa iniciativa parte de um equívoco, a confusão entre literatura e realidade, autor e narrador.
É certo que há na literatura lobatiana expressões como macaco para apontar personagens negros, mas por esse critério teríamos que eliminar das estantes e bibliotecas quase todos os escritores brasileiros que escreveram até o final do século vinte, quanto as políticas de inclusão começaram a sortir efeito e mudar o nível de consciência das pessoas em relação a essa chaga, a mais vergonhosa da sociedade brasileira.
Para trazer apenas mais um exemplo, citamos uma passagem de Um Lugar ao Sol, de Érico Veríssimo, publicado em 1936. Lá pelas tantas, a família de Vasco e Clarissa, os personagens centrais da história, acolhem um garoto negro encontrado num banco de praça, faminto, transido de frio. O garoto, que se chama Delicardense, é acolhido pela família, ganha um lar, é alimentado e passa a ser um criado responsável por algumas tarefas domésticas. Às vezes ele dorme no chão, outras embaixo da escada, e normalmente é identificado como um dos amigos do Vasco, “o negro e o cachorro”. Já na apresentação do novo integrante do grupo, uma senhora, dona Eufrásia, valendo-se de conhecimentos da ciência de Lombroso, sentencia, “Esse negro é alarife. Está se vendo…cabeça pontuda, perna fina, dente sempre arreganhado. (…). Clemência, tu te cuida com esse negro. Qualquer dia ele te faz uma boa…”. Mais adiante o narrador nos mostra que o moleque, ao ser interpelado por alguém “arreganhava a dentuça e ficava mirando “ a pessoa. Ao final, após ser bem tratado e ter até recebido a promessa de ser enviado à escola, Delicardense, em cumprimento aos vaticínios de dona Eufrásia, foge de casa levando o que pode arrebatar, inclusive as economias em dinheiro que Clarissa mantinha numa caixinha feita de cofre. Apesar de todas expectativas, Delicardense não soube conquistar seu lugar ao sol, e ao fugir na condição de ladrão, mergulhou para sempre na sombra do anonimato, do descaso e na categoria de apenas mais um negro que “se não fez na entrada, fez na saída”.
Não lembro de outra ilustração mais forte de racismo na obra do grande escritor gaúcho, muito menos a existência de uma campanha para apagar esse personagem das páginas da literatura rio-grandense. Como já disse, esses rompantes de correção de uma obra literária são consequências de uma confusão entre autor e narrador.
A literatura é representação de uma realidade, mas não é uma prescrição de princípios. A voz que conta a história, o narrador, reproduz um universo ideológico, uma visão de mundo que era natural naquele momento. O autor é a pessoa que organiza tudo isso numa unidade significativa, mas que não reproduz necessariamente suas convicções. A literatura diz que era assim, não como deveria ser.
E aí nos deparamos com outro ponto importante: o potencial pedagógico da literatura. No período do Neoclassicismo, acreditava-se que a arte literária servia para ensinar e transmitir as ideias mais sublimes que o público deveria cultivar, uma visão muito simplista da recepção de qualquer obra de arte, como se o artista se transformasse numa espécie de professor à distância, ditando regras e boas maneiras.
No caso de Monteiro Lobato, o que os infantes brasileiros poderiam aprender ao ler uma obra depurada dos preconceitos da época em que foi concebida? Não se nega a possibilidade de as crianças saírem da leitura inspiradas por uma mentalidade mais empática e humanista, prontas para conviver com seus semelhantes num mundo mais harmonioso, independente de etnias, cor de pele e posição social. Mas também pode acontecer que esse pudor linguístico contribua apenas para apagar da memória coletiva um dos aspectos mais significativos na formação da sociedade brasileira.
Pode ser que as crianças se criem na ilusão de um novo mundo, na crença de que o Brasil sempre foi o paraíso da miscigenação racial, que aqui os senhores brancos tratavam a criadagem negra com um respeito que na verdade eles nunca tiveram. Que ataques racistas são apenas eventos pontuais, alienados de qualquer contexto social, falácia sociológica que algumas autoridades de hoje pretendem nos impingir. Seguir nessa direção é optar por um caminho que logo adiante se bifurca e não há como controlar a opção tomada pelo leitor.
Como se vê, as boas intenções podem conduzir ao inferno ou ao paraíso, mas não é função da literatura dizer qual é o melhor. O que a literatura pode fazer é mostrar que o racismo é uma doença que ataca mentes humanas e que a nós compete a missão de estarmos sempre atentos, em alerta, para combatê-lo a qualquer momento e em qualquer meio que ele se manifeste.
Photo by Teslariu Mihai on Unsplash