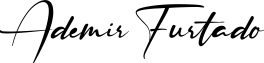As comemorações cívicas são rituais que atualizam os momentos fundadores de uma nação, de um povo, de uma cultura. Muito natural que sejam realizados em clima de solenidade. Quando os participantes, como sacerdotes dos ofícios sagrados, embebidos no espírito de seriedade, ainda que conscientes do caráter teatral do evento, devem manter a aura de respeito que a ocasião exige.
Na última semana, comemorou-se, no Brasil, o Bicentenário da Independência, o famoso brado retumbante às margens plácidas do Ipiranga. Não vem ao caso, agora, discutir a verdadeira natureza de independência e soberania conquistadas pela nação brasileira ao longo desses duzentos anos. O que importa é que, oficialmente, o Brasil nasceu ali. Com o monarca montado numa mula, embora os ufanistas, pouco preocupados com a veracidade histórica, teimem em imaginar um cavalo de raça, de pelo lustroso, dotado de invencível força selvagem, indomável, como seria o novo país que nascia.
E como um Estado vive de narrativas oficiais, muito mais simbólicas do que realistas, claro que o tão celebrado grito imperial deve ainda ecoar na voz dos nossos governantes. E para um país normal, como foi o Brasil até recentes anos, pelo menos o sete de setembro deveria exalar um ar de civismo.
Entretanto, o Brasil de hoje não vive mais em clima de normalidade. Temos um presidente, cuja noção de civismo se resume, junto com seus seguidores, a se fantasiar com as cores da bandeira, o verde e amarelo que já orgulharam os brasileiros, e berrar palavras de ordem de militância fanática.
Para complicar mais ainda, o bicentenário coincidiu com o ano de eleição para presidente, quando o atual ocupante do cargo se candidatou à reeleição. Como resultado, o civismo patriótico foi ignorado e a arena comemorativa desandou para um circo. Onde não faltou nem o providencial palhaço, interpretado com muita competência e grande talento pelo empresário bolsonarista mais conhecido como ‘Véio da Havan’, um bufão que usa as cores da bandeira como estampa de um figurino tão ridículo quanto suas performances públicas. Ou seja, a bizarrice mais grotesca virou a normalidade dos dias atuais nas esferas do poder federal.
Mas o lance apoteótico tinha que ser mesmo protagonizado pelo mestre de cerimônias: o próprio presidente da República. No cenário organizado para a encenação oficial, transformado em palanque eleitoral, o líder da nação brasileira, num gesto completamente alheio ao momento solene, abraçou a primeira dama, dita princesinha, deu-lhe um beijo digno de uma cena de filme romântico, após o que, empunhou o microfone e atiçou o seu público fiel com o bordão já usado outra vezes: IMBROCHÁVEL, IMBROCHÁVEL, IMBROCHÁVEL. Ao qual a horda presente aplaudiu com o entusiasmo de plateia de um espetáculo circense.
Pobre Pedro I, se tivesse o dom da premonição e adivinhasse que seu enfurecido clamor de Independência ou Morte, em duzentos anos viraria IMBROCHÁVEL, provavelmente pensaria duas vezes antes de quebrar o jugo que nos prendia ao império português. Logo ele, cuja lenda diz que se comportava como um verdadeiro garanhão e espalhou dezenas de filhos, tanto no Brasil como em Portugal. Já o outro Pedro, o Américo, não teria pintado aquela peripécia original com cores tão ufanistas.
Inútil perguntar o que os desatinos verbais do atual chefe teriam a ver com as atividades cívicas. No entanto, é possível fazer algumas divagações sobre a necessidade que teria um homem de quase setenta anos, no terceiro casamento, e que tantas vezes já se gabou de conquistas amorosas, supostamente pai de cinco filhos, no exercício de um importante cargo público, de expor aos quatro ventos, numa festa pomposa em honra da cidadania, sua suposta energia sexual.
A primeira coisa que vem à lembrança é que, na cultura ocidental, a percepção de ter um pênis causa certo desconforto na mente de homens. Esse membro, que é tão pequeno em relação ao resto do corpo, por vezes se põe a fazer gozações, arrastando o pobre macho a situações vexatórias. Quando em estado de prontidão, o falo envolve uma infinidade de significados, que costumam atordoar a consciência de homens inseguros.
Por isso que, na Roma antiga, que sofria uma taxa muito alta de mortalidade masculina – a idade média de vida de um homem era de 25 anos – o pênis ereto passou a ser venerado como órgão reprodutor de Estado, com o propósito de manter os níveis de fecundação e com isso, a supremacia romana. Era o pênis estatal.
O problema é que o homem não consegue controlar esse membro, que nem sempre reage aos estímulos com a virilidade desejada, e isso é motivo de preocupação para homens, desde os tempos mais remotos. Já no século XI, um sujeito chamado Constantinus Africanus elaborava poções, cujo propósito era estimular a ereção e facilitar o ato sexual. Foi uma das primeiras tentativas de fabricar o Viagra. Isso, numa época em que imperava a maldição lançada por Santo Agostinho, para quem o pênis se convertera num instrumento do demônio para disseminar o mal. De acordo com o venerável padre, ao ejacular dentro de uma mulher, o homem transmitia, através do sêmen, o pecado cometido por Adão e Eva, que resultou na expulsão do Paraíso.
Como se vê, esse insolente acessório do corpo masculino foi criado para desempenhar a dura tarefa de aterrorizar pretensos valentões, dados a fanfarronices de macheza, principalmente quando o nível se segurança deles não é tão másculo assim. É por isso que, por vezes, ele penetra – sem trocadilhos – nos lugares mais inoportunos, nos momentos mais improváveis, como a efeméride pela autonomia de um país.
Com um presidente que já deu várias demonstrações de viver assombrado pela ideia do pênis, este sete de setembro, o bicentenário da independência do Brasil, não poderia ter sido mais brochante.
Photo by Steve Harvey on Unsplash